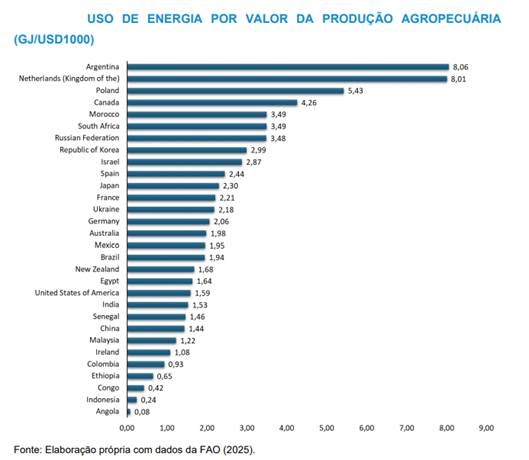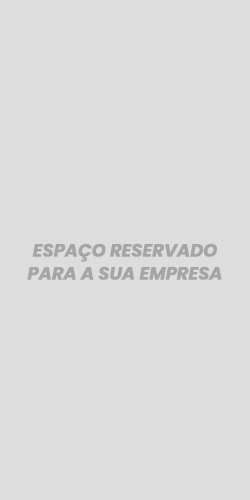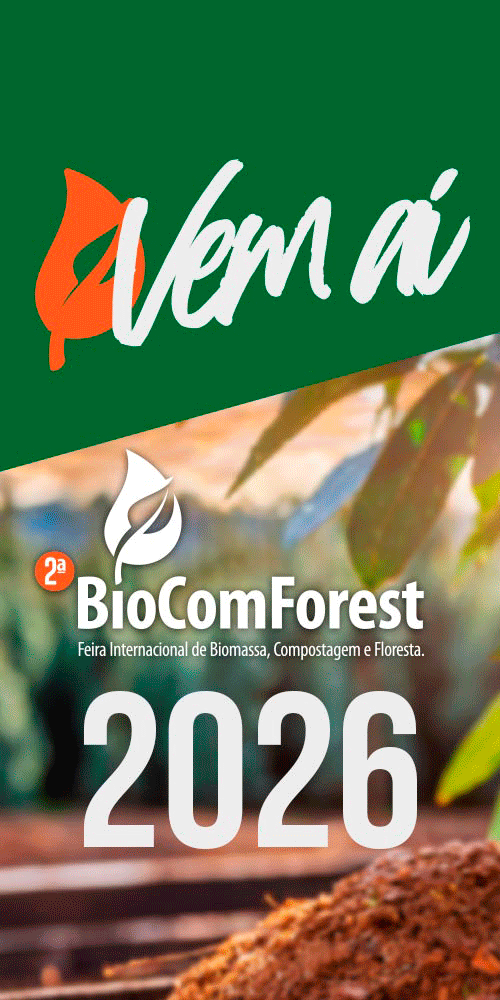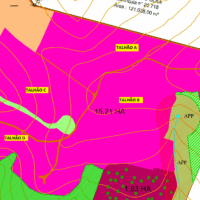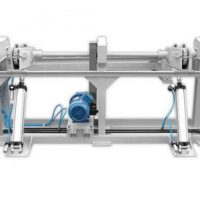Pavimentação e drenagem do Loteamento Zé Dias da Silva e do distrito São Pedro são prioridades para 2025
Diante dos bilionários investimentos no setor de celulose, o município de Inocência apresentou nesta terça-feira (24) os projetos de infraestrutura previstos para 2025, que contarão com o apoio e parceria do Governo do Estado. De forma imediata, ficou definido que serão realizadas obras de pavimentação e drenagem no Loteamento Zé Dias da Silva e no distrito São Pedro.
A definição ocorreu durante reunião com o governador Eduardo Riedel, por meio do programa MS Ativo. “Inocência recebe grandes investimentos privados, mas está sentindo na pele o processo acelerado deste crescimento. Chegou o momento de ouvir o prefeito e vereadores sobre as novas demandas, para definirmos os projetos principais. Vamos fazer por ordem de prioridade”, declarou o governador.
O prefeito Antônio Ângelo Garcia, o Toninho da Cofapi, apresentou os principais projetos e obras que o município necessita para acompanhar o novo ritmo de desenvolvimento. “Inocência só tem a agradecer tudo que o Estado está fazendo pela cidade. São investimentos importantes que levam resultados para a população. Com esta nova realidade, a cidade precisa de uma atenção especial”, afirmou.
O distrito São Pedro, um dos focos do plano de pavimentação, será atendido por meio de parceria direta entre Estado e Prefeitura.
A reunião contou ainda com a presença da senadora Tereza Cristina, dos deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira, dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Junior Mochi, Pedro Caravina, Jamilson Name, Zé Teixeira e Mara Caseiro, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Jaime Verruck (Semadesc), Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).
Com os novos projetos, Inocência busca alinhar sua estrutura urbana ao desenvolvimento acelerado, garantindo qualidade de vida à população e suporte adequado aos empreendimentos que vêm transformando a realidade econômica da cidade.
Informações: MS Todo Dia.